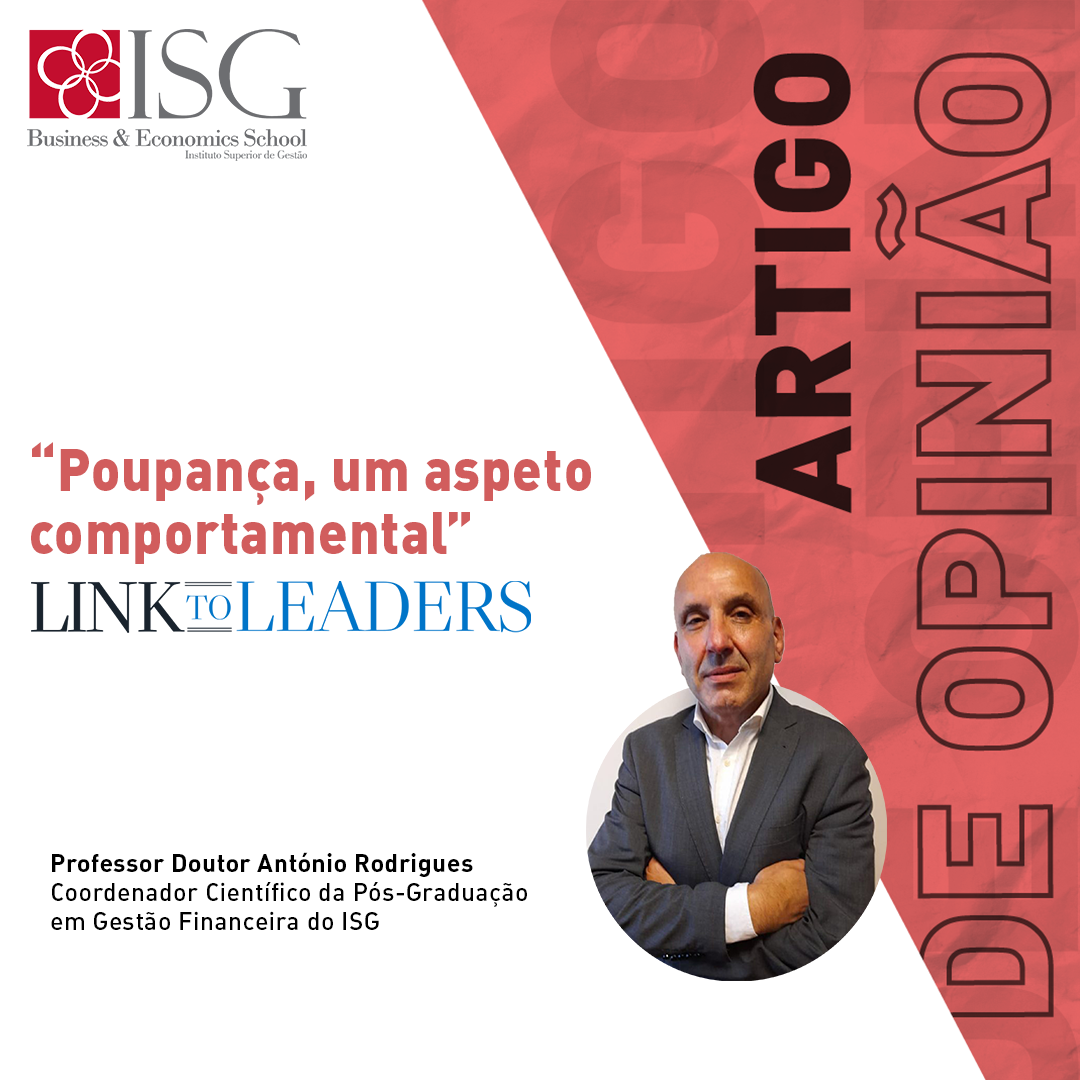Numa perspetiva económica, são várias as teorias que procuram explicar o crescimento económico e que demonstram a importância da poupança e do investimento para o crescimento das economias. São exemplos, a corrente clássica, a corrente keynesiana, a corrente neoclássica e a teoria do crescimento endógeno. Contudo, não é consensual a relação e contributo da poupança e do investimento para o crescimento económico.
O Relatório da OCDE “OECD Capital Market Review Portugal 2020 – Mobilising Portuguese Capital Markets for Investment and Growth” publicado o ano passado, refere que desde 2000 que a poupança líquida agregada das famílias portuguesas é a mais baixa entre as economias europeias comparáveis.
No entanto, as taxas de poupança (parte do rendimento disponível não utilizada no consumo) durante a pandemia ultrapassaram a média histórica dos portugueses que ronda os 6 a 7% do rendimento disponível. À medida que a economia foi reabrindo a poupança tendencialmente regressa aos valores normais pré-pandemia.
Se por um lado, a poupança enquanto decisão económica considera um conjunto de variáveis como o crescimento económico, a oferta de trabalho, a política governamental ou as decisões de consumo, por outro lado, poupar não é tanto uma questão de disponibilidade de recursos, mas uma questão comportamental. De acordo com o clima económico sentido pelas famílias em termos de fases mais expansionistas ou contracionistas, assim as famílias adotarão comportamentos de maior ou menor poupança.
A situação atual de taxas de juro negativas pode sugerir uma menor propensão para a poupança. Se gastar hoje e gastar amanhã são opções com o mesmo custo, naturalmente as famílias adotam comportamentos de evasão da poupança sem qualquer respeito pelo futuro e pela imprevisibilidade associada.
O aumento da esperança média de vida pode condicionar a decisão de poupar, em virtude de existir a perceção que o fim da vida está longe e o dinheiro não chega para os anos que se vivem a mais.
A criação de estímulos à poupança, ausente dos Orçamentos do Estado continuam a ser uma realidade. São necessárias medidas de estímulos para incentivar as poupanças das famílias, por exemplo, a diminuição do imposto ou a isenção até determinados montantes de juros nos produtos de aforro e a criação de novos produtos de aforro do Estado de longo prazo mais adequados ao atual contexto das taxas de juros.
Tal como os investidores os aforradores são orientados por incentivos. E os incentivos, até agora, não foram suficientes, se tivessem sido, Portugal não apresentaria um histórico quase constante de baixa poupança desde o início dos anos 2000.
Em geral, as famílias regem-se por comportamentos orientados para o imediato sem vislumbre pelo futuro na esperança de existir sempre ajuda, com um preço a pagar – existem famílias que se encontram permanentemente numa situação de endividamento ou muito próxima dessa situação – para terem acesso hoje áquilo que ainda não podem ter.
As crises das famílias acontecem sempre que existe necessidade de reajustar o padrão de vida a um cenário de rendimentos mais reduzidos. É antes deste cenário, que as famílias devem adotar comportamentos de poupança, caso contrário iniciam um processo ilusório de combater a situação de falta de rendimento disponível com recurso ao crédito.
O investimento depende da poupança nacional, e é com a poupança que se financia a economia. Uma economia assente no consumo justifica que a poupança esteja arredada do discurso dos políticos e da politica nacional e europeia. Desta forma, incentivamos o endividamento das famílias, preferimos falar do deficit e de crescimento económico, como se a poupança fosse um contrapeso ao desenvolvimento económico e ao bem-estar das famílias.
Poupar encontra-se em desuso, vive-se o imediato, por isso, com todos os riscos e crises que desafiamos, preferimos partilhar das palavras de Samuel Butler “ Todo o progresso é baseado no desejo inato e universal de todo o ser vivo de subsistir acima das suas possibilidades”.